Quanto vale (de verdade) um anúncio no Super Bowl?
O número que faz manchete todo ano é sempre o mesmo: o preço de um comercial de 30 segundos. Cifras exorbitantes para uma única noite.
A reação também é ritualística: “ficaram loucos?”, ainda mais num mundo em que a TV sangra audiência, o streaming fragmenta tudo e o marketing se espalhou em feeds de microbolhas.
Esse espanto parte de uma premissa errada.
O preço não é exagero. É um retrato fiel do que sobrou.
Hoje quase não existe mais um momento capaz de parar um país inteiro ao mesmo tempo, com o celular na mão e a conversa pronta no grupo. Durante a final, alcance, memória e distribuição acontecem juntos. É o tipo de coordenação coletiva que a internet destruiu e que, por algumas horas naquela noite, reaparece.
O comercial é caro porque se tornou raro.
A obsessão pelo custo olha para o número errado. Quem entra nesse palco não compra 30 segundos, mas um pacote completo para existir ali. É nesse ponto que a conta muda de escala.
‘Go Big’ or ‘Go Home’
O anúncio no jogo é só a placa na porta. A conta real começa ali e, quase sempre, passa de US$ 20 milhões com naturalidade.
Comprar 30 segundos é como comprar uma casa sem acabamento. Você ainda precisa mobiliar, decorar e entregar o que prometeu. Um anúncio no Super Bowl raramente fica abaixo de US$ 15 milhões. Em muitos casos, supera US$ 30 milhões e leva meses para existir.
Em 2026, o spot em si chegou a US$ 10 milhões, quase o dobro do valor de dez anos atrás, segundo a NBC Universal, que detém os direitos do evento via Peacock nos EUA. (No Brasil, a transmissão ficou com Sportv e ESPN.) Mas ninguém entra nesse palco com um único anúncio e sai satisfeito.
A ambição fala mais alto. O anunciante compra pacotes adicionais de inventário ao redor do jogo. Compra redundância. Compra presença. E isso puxa o resto.
Depois vêm produção e talento. Filme barato é risco reputacional. Não é que cinema venda mais. É que errar ali custa mais caro. Com celebridades, elencos táticos e padrão Hollywood, a conta de produção facilmente passa de US$ 5 milhões.
Por fim, amplificação. É onde se decide quem “apareceu” e quem “ganhou”. O spot funciona como gatilho. O resto é a guerra pela memória: bastidores, recortes, creators, PR, pop ups, memes, resposta rápida. Um anúncio hoje é o trailer do que acontece na semana anterior e na posterior.
No fim, todo mundo quer ser escolhido pelo New York Times e pelo boca a boca como “o anúncio que ganhou o Super Bowl”.
Não é histeria coletiva. É oferta fixa e demanda infinita por um produto que praticamente sumiu: atenção simultânea.
O estádio é só o palco
Se a tese é escassez, a prova está nos números.
No ano passado, o jogo atingiu um pico de 127,7 milhões de espectadores só nos EUA. Estimativas apontam outros 60 milhões globalmente. É um número tão fora da curva que faz o resto da televisão parecer uma indústria de nicho.
E é aí que o intervalo fica mais importante do que deveria.
Em 2025, o show do Kendrick Lamar puxou uma audiência ainda maior – 133 milhões assistindo simultaneamente – e gerou aquele tipo de momento que atravessa do adolescente ao avô, com frases repetidas por meses. No Brasil, até o perfil da CPTM criou paródias do show, sinal de que a influência vai além do sofá americano e chega ao ponto de ônibus.
A NFL entendeu algo que o futebol brasileiro não aprendeu: transformar a pausa no produto cultural mais exportável do mundo.
Em 2026, a liga encontrou outro tipo de ativo. Um artista que não exige legenda, contexto ou tradução cultural. Bad Bunny não é só atração musical. É distribuição internacional em formato de clipe.
Escolher Bad Bunny é escolher uma rota de crescimento. Existe uma América que o marketing tradicional ainda trata como “segmento”, quando na prática ela já é eixo de consumo. Quase 70 milhões de latinos vivendo no país significam mercado, comportamento, linguagem e cultura.
Estudos colocam a economia latina nos EUA como a quinta maior do mundo em PIB combinado, maior que Reino Unido, França, Índia e Brasil, e também a que mais cresce.
A escolha não é aleatória. O fenômeno Benito já mostrou que consegue mover turismo, ocupação hoteleira, restaurantes e consumo de rua. Em 2025, ele se recusou a levar sua turnê a cidades americanas e chamou o público para ir a Porto Rico se quisesse assistir. O resultado foi um impacto estimado em US$ 200 milhões para a ilha.
O artista que canta no intervalo também se consagra para sempre no imaginário americano. Não existe vitrine maior. E eles não são pagos para isso.
Escândalo que virou negócio
A final não nasceu como catedral do marketing. Em 1967, o primeiro jogo nem esgotou ingressos. Era grande, mas ainda era só a final.
A virada veio em etapas.
Em 1984, a Apple colocou a publicidade no lugar do conteúdo. Ridley Scott dirigiu um anúncio de 60 segundos que custou US$ 900 mil para produzir e quase US$ 1 milhão para exibir. O comercial do Macintosh foi manifesto. Vendeu milhões sem mostrar uma única especificação técnica. Ali, o intervalo deixou de ser intervalo.
Décadas depois, a Apple voltou ao centro do palco ao assumir os naming rights do show do intervalo, pagando cerca de US$ 50 milhões por ano para rebatizar o evento como Apple Music Halftime Show.
O intervalo ganhou escala cinematográfica. Michael Jackson em 1993. U2 depois. A pausa virou espetáculo e, com isso, trouxe risco.
Em 2004, o incidente com Janet Jackson e Justin Timberlake mudou as regras do jogo. Reguladores reagiram com fúria, aplicaram multas recordes e a NFL passou a exigir delay de transmissão, controle absoluto do palco e até um time de compliance. O halftime ganhou governança.
Falem bem ou falem mal, tudo isso só ajudou o evento a se tornar o que é hoje.
A internet foi a gasolina. Os comerciais ganharam segunda vida. Passaram a ser julgados, ranqueados, recortados, compartilhados. O palco se tornou plataforma.
2026: perca peso, use minha AI, compre uma casa
Os anúncios refletem o momento dos mercados. A era das criptos já foi. 2026 refletirá outra ansiedade.
E pela primeira vez, um posicionamento claro da Nvidia.
A mistura do ano diz mais sobre o estado emocional da América do que sobre estratégia pura de marca. GLP-1 como categoria madura. AI em guerra aberta. Hipotecas em ressaca. Tudo tentando ocupar o mesmo domingo.
A Rocket, uma corretora imobiliária que também financia casas, gastou mais de US$ 20 milhões numa campanha estrelada por Lady Gaga. Não é sobre financiamento. É entretenimento. É empurrar millennials, com cada vez menos poder de compra, a se arriscarem na primeira casa. Num mercado em que os juros não ajudam, marketing agressivo importa.
Do mundo de AI, Anthropic, OpenAI e Google Gemini entraram com força total. Umas mais provocativas, outras mais comportadas. A Anthropic cutucando a OpenAI por vender anúncios. O Google, fiel à persona “do bem”, mostrando uma mãe e um filho usando AI para sonhar juntos.
No fim, a aposta é clara. O público talvez não entenda o que é um modelo de linguagem – mas entende o que significa “estar no domingo”.
A Nvidia, que nunca precisou fazer marketing para valer mais de US$ 4 trilhões, se posiciona pela primeira vez como marca de consumo no maior palco do marketing mundial. A mensagem não é técnica. É aspiracional. Patriótica. Na era do MANGO — Microsoft, Anthropic, Nvidia, Google DeepMind e OpenAI — ela tenta se colocar como American standard.
A fórmula se repete porque funciona. Celebridade gera tração, humor cria conversa, inovação fixa memória. O anúncio deixou de ser venda direta. A porta de entrada para a marca existir o resto do ano.
Quem vai jogar? Tanto faz
A final vai continuar crescendo em preço e relevância porque não vende esporte. Vende o último momento coletivo da América.
Três horas seguidas, domingo à noite, entre amigos e família, sem largar o celular. Um dos últimos lugares onde ainda é possível comprar registro público em escala.
Mais de 200 milhões de pessoas vão parar para comer chicken wings, assistir anúncios de carro, ouvir Bad Bunny cantar em espanhol num país de idioma oficial inglês, e discutir se aquele comercial foi genial ou ofensivo.
O jogo é o pretexto.
O produto é a atenção coletiva.
E quando atenção coletiva é rito, o preço deixa de ser caro. Vira inevitável.
Kaio Philipe é o CMO da Inter&Co.
The post Quanto vale (de verdade) um anúncio no Super Bowl? appeared first on Brazil Journal.
Você também pode gostar

Scam Sniffer: 4.741 utilizadores perderam 6,27 milhões de dólares em ataques de phishing baseados em assinaturas em janeiro.
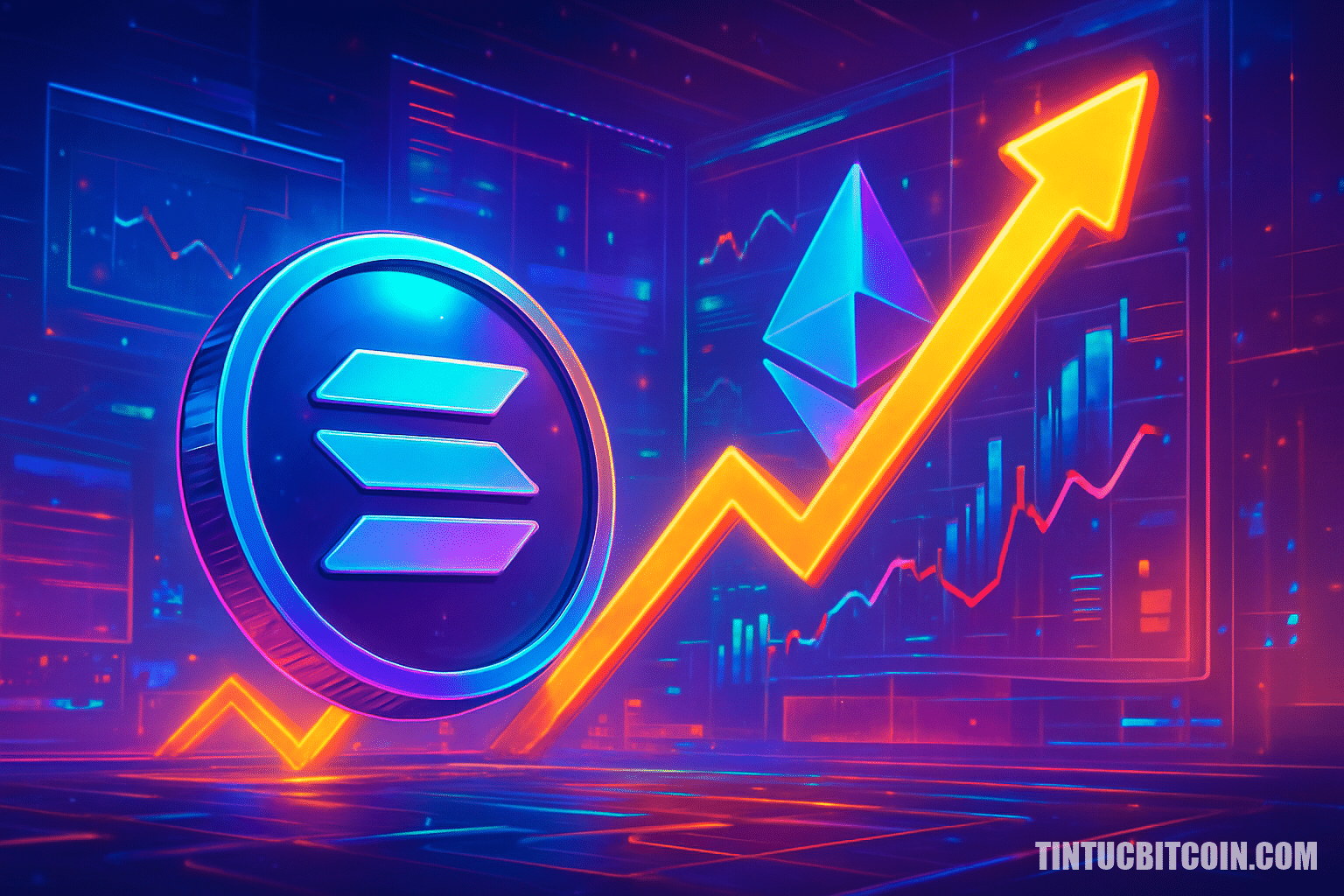
Solana âm thầm bứt lên: SOL hưởng lợi từ FUD về Ethereum?
